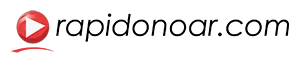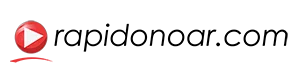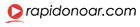Os dois surtos recentes de febre amarela que aconteceram no Brasil, com pouco mais de 2 mil casos confirmados e 850 mortes entre julho de 2016 e junho deste ano, foram os maiores do País em cem anos e levantaram a suspeita de que poderia ter voltado a ocorrer a transmissão urbana da doença. Mas uma ampla pesquisa que investigou, do ponto de vista genético e epidemiológico, as origens do surto bate o martelo: o que vimos no País ainda é a febre amarela silvestre.
O trabalho publicado na edição desta semana da revista Science revela que o surto emergiu em macacos em Minas Gerais no final de julho de 2016, com vírus que migraram das regiões Norte ou Centro-Oeste para a Sudeste. Os pesquisadores estimam que eles chegaram possivelmente com a ajuda de atividades humanas, como transporte de mosquito em carros e tráfico ilegal de macacos.
A pesquisa, liderada por cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e da Fiocruz, aponta que uma linhagem do vírus se espalhou no ciclo silvestre entre primatas não humanos sem ser percebida em 2016, saltando para populações humanas no início de 2017 em Minas.
Com análises genéticas, epidemiológicas e espaciais do surto, eles observaram que a partir do momento em que os casos foram identificados em macacos, os casos humanos apareciam cerca de quatro dias depois, o que corrobora a noção de que os macacos são mesmo sentinelas da febre amarela.
O pesquisador português Nuno Faria, do programa de genômica de pandemias de Oxford, primeiro autor do trabalho, explica que esse intervalo de tempo estimado tem como ponto de partida o momento em que se notam os macacos mortos. Mas o vírus provavelmente começou a circular entre os animais muito antes. Assim como ocorre em humanos, também podem ocorrer vários casos assintomáticos em macacos, apesar de não se saber a proporção disso.
“A gente não tem como dizer que o primeiro caso infectado foi o primeiro caso diagnosticado. Não temos a relação entre macacos que foram infectados e morreram. Assim como não podemos dizer que o primeiro caso humano identificado foi o primeiro do surto. Mas isso é importante porque mostra que a febre amarela está se manifestando no meio silvestre”, afirma Luiz Alcântara, da Fiocruz, colíder do trabalho.
“Os surtos trouxeram vários aprendizados que são reforçados pelo estudo. O primeiro é sobre a importância de se manter uma vigilância constante sobre a expansão do vírus entre macacos. Fazer o diagnóstico rápido e seguir os avanços o mais rápido possível é o que vai permitir perceber quais são as áreas onde tem de se ampliar a vacinação”, comenta o pesquisador Renato Souza, do Instituto Adolfo Lutz, um dos autores do trabalho.
Grupo de risco
Outro dado importante é sobre os casos humanos. O trabalho revela que perto dos pontos de origem do surto em Minas, 85% dos infectados eram homens não vacinados, com maior incidência na faixa entre 40 e 49 anos. O curioso é que a maioria vinha de regiões que já tinham uma cobertura vacinal de 80%.
“Esse grupo, composto majoritariamente por trabalhadores rurais com atividades ocupacionais que envolvem contato direto com a floresta, se mostrou o mais afetado pelos surtos de febre amarela. Seria importante focar campanhas de vacinação futuras em grupos de risco com contato direto com áreas silvestres que estão em contato próximo com os vetores principais da febre amarela, os mosquitos Haemagogus e Sabethes”, afirma Faria.
“Esses homens contaminados viviam em média a 5 quilômetros de distância de áreas florestais. O homem tem uma mobilidade maior que a mulher na área rural. Por isso dizemos que a febre amarela é condicionada à mobilidade do ser humano onde tem o mosquito”, complementa Alcântara.
“Depois de chegar a Minas Gerais em julho 2016, o vírus se espalhou rapidamente em populações locais de mosquitos silvestres e primatas não humanos a uma velocidade media de 3,3 km por dia e em direção as grandes cidades de São Paulo e Rio de Janeiro”, diz.
O trabalho publicado nesta quinta-feira, 23, traz o sequenciamento de 62 genomas do vírus que circulou no primeiro surto, entre julho de 2016 e junho de 2017. Agora está sendo preparado um novo estudo, com mais de 200 sequências genéticas, incluindo do vírus que circulou também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os pesquisadores estimam que o padrão de casos observado até agora, que reflete a transmissão silvestre, deve se manter.
A expectativa dos autores é que o conjunto de métodos e técnicas usados no trabalho possam ser aplicados para caracterizar mais rapidamente, em tempo real, futuros surtos no mundo. Seria o primeiro passo para prever quando e onde eles irão surgir, aponta Alcântara.